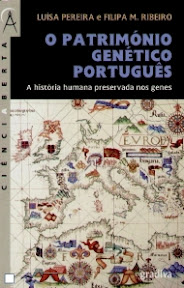07 Maio 2010
Existe Uma Liberdade Intrínseca a um texto mainstream (dir-se-ia «literatura do quotidiano», embora na verdade represente tudo o que não se encontra categorizado como um género) que não consegue ser duplicada pelos autores de Ficção Científica e Fantástico. É uma liberdade patente na voz do narrador e no estilo da história. Os bons textos de mainstream preocupam-se com a experiência da leitura – ao invés de procurarem um estilo transparente, directo, hemingwaysco, sem sabores nem odores, assumem que a percepção da narrativa por via das palavras é diferente, e deverá ser diferente, da percepção visual ou auditiva, e esforçam-se por nos conduzir nessa viagem. O autor de mainstream não se preocupa apenas com a necessidade de contar uma história, mas de como deve contá-la. Obviamente, como em tudo, há exageros ou pressuposições falsas. Um bom autor deixa-se conduzir pelo estilo que melhor serve a história em questão. Os autores menos bons – inclusive os autores que outrora foram bons mas se deixaram estagnar num modo muito próprio de escrever, por que, além de conveniência, também serve de imagem de marca – perdem-se em malabarismos de imagens e metáforas e excessos descritivos e acabam partindo a loiça. Cada história necessita da abordagem que melhor a serve.Não é por isso de todo disparatado dizer-se, por exemplo, que «havia uma velocidade no teu olhar». É uma questão de contexto. Apresentada assim, despida, corre o risco de tornar-se ridícula. Enquadrada numa descrição sobre a sagacidade do personagem ganha sentido e poesia. O contrário acontece com frases como «o cais é uma saudade de pedra». Esta frase encerra o contexto de si mesma, é uma unidade perfeita, e por isso mesmo serve como epígrafe, citação, descrição e verdade universal, caso seja necessário. Mas é por estes e outros exemplos que o Pessoa é o Pessoa e o autor da frase anterior o mero escrivão desta crítica.
Daí que a experiência de ler mainstream por quem lê exclusivamente obras de géneros, e vice-versa, seja intensamente frustrante. Não se obtém igual tipo de alimento. O leitor de géneros procura a experiência da história, e o texto não é mais do que um veículo eficiente para a mesma. O leitor de mainstream equipara, lado a lado, a história com a efabulação da escrita, e estilos secos e directos apenas podem ser compensados pela relevância do conteúdo - além, claro, dos normais conflitos de expectativas. Possivelmente o mainstream considera que o íntimo é a medida de todas as coisas e que uma história deve considerar o mundo exterior como um incómodo necessário ao centrar-se na evolução da percepção individual, e o género borrifar-se-á tanto para o íntimo do personagem como para o íntimo do vizinho e o que pretende é o deslumbramento infantil de observar a interacção entre objectos, circunstâncias e pessoas enredar-se numa complexidade de padrões e significados. Um encara a existência como uma série de circunstâncias aleatórias das quais pode retirar entendimento, o outro acredita que existem pequenas narrativas ocultas na grande narrativa que é a existência. Como em tudo, ambos estarão correctos, ambos estarão errados.
Onde, por vezes, a distinção entre mainstream e géneros surge mais vincada – e ao mesmo tempo, mais próxima – é na descrição de uma experiência intensamente pessoal. Ao tentar expor-nos algo que imesuravelmente o fere ou encanta, o autor deixa transparecer o seu envolvimento, deixa que a história se conte por si mesma, o que é suficiente para derrubar critérios literários e expectativas. Sabemos assim que estamos perante uma obra-prima.
A Breve e Assombrosa Vida de Oscar Wao poderá não ser essa obra-prima, mas sabemos que contém muita dor e vivência pessoal. Basta folhear os capítulos. A mistura de pontos de vista, a existência de capítulos curtos e saltos no tempo, a inserção quase excessiva de notas de rodapé, dá-nos de imediato a sensação que se trata de uma história com muitas facetas e muitos exemplos mas que é na verdade uma história simples. Que há muito para contar, mas é muito do mesmo e portanto há que saber contá-lo. E sem dúvida, a premissa narrativa é explicada nas primeiras páginas, ao apresentar-nos um adolescente «geek» (em tempos chamar-lhe-íamos totó), gordo e socialmente desajeitado, que encontra na Ficção Científica e nos jogos de computador e R&D o seu pouco encanto com o mundo. Esta travessia por um período tão difícil da vida não é ajudada pela necessidade premente de encontrar uma rapariga, por ser amado e aceite num meio latino com uma pressão cultural intensa pela evidência do homem em cada rapaz.
Latino? Sim, Oscar Wao é de ascendência dominicada, como o próprio autor, Junot Díaz, mas cresce num bairro de Nova Jersei. Oscar é então emigrante em terra estranha, mas transporta nos genes e no pensamento os ecos da terra que o gerou. Esses pensamentos ensinam-no que o fukú existe, que é basicamente a má-sorte, o fado, e que quando assenta numa família e numa pessoa, esta encontra-se condenada a um inferno cristão em vida. Terá sido o fukú que lhe deu aquele aspecto e sina, como foi o fukú que condenou a República Domicana a submeter-se ao jugo de Trujillo, um ditador aqui descrito como um verdadeiro animal selvagem que um povo passivo não foi capaz de destronar (bem, o nosso próprio exemplo acabou destronado por uma cadeira defeituosa e pela senilidade, por isso também não temos muito de que nos orgulharmos). Oscar é fruto de uma família desgraçada pelo fukú, cujo azar foi ter uma filha muito bonita que chamou a atenção do ditador – um apreciador de meninas bonitas – e dos seus lacaios. Quem brinca com fogo...
Junot tem obviamente muito para contar, e quase se atrapalha a contá-lo. É também filho de duas culturas, expatriado cultural, e terá sentido que um único idioma não faria jus à salada linguística que lhe povoa o pensamento. A Breve e Assombrosa Vida é assim um livro inglês salpicado de espanhol, ou talvez o contrário – contraste evidente na edição original, mas que se dilui por completo na edição portuguesa. Diga-se de passagem que a Porto Editora assumiu a atitude corajosa de não italicizar o estrangeirismo, embora por vezes isto perturbe a leitura, pois o castelhano não salta tão à vista como no texto original. A tradução é no mínimo competente, com alguns momentos infelizes, quando procura explicar algumas das citações da Ficção Cientifica... ah, não vos disse?
Oscar Wao é um geek que observa o mundo pela lente das suas leituras. Estas parecem confinar-se a Frank Herbert, Gordon Dickson e Tolkien. Compara Trujillo a Sauron e imagina-se Dorsai. Uma atitude que me pareceria natural num adolescente com tais gostos, esta opção de contra-cultura de Junot Díaz foi enaltecida pelos críticos, quer do mainstream quer do género. Francamente, não consegui encontrar igual fascínio. Os críticos do mainstream louvam o autor por assumir a sua street-smartness e geekiness, como se se tratasse de um topping adicional na sobremesa – como se, efectivamente, e dada a história tão emocional em questão, fosse algo dispensável. Os críticos da Ficção Científica apreciam o respeito mostrado aos autores e temas do género, como se de facto as poucas descrições dos seus hábitos de leitura elevassem esta obra a uma introdução a leigos da complexidade inerente ao Fantástico.
Não encontro outras leituras que de tratar-se de uma história quase incomodativamente pessoal, um colocar a nú de velhas feridas – e há que admirá-la por isso. Um nú não apenas familiar mas de todo um povo e uma geração, que precisava de expor as injustiças por que passou face às injustiças que outros reclamam para si. Os melhores momentos do livro não se referem a Oscar Wao – um alter-ego possivelmente deturpado do autor – mas quando regressa a Santo Domingo e ao passado, quando conta a história trágica dos avós e do conflito com o ditador. São momentos poderosíssimos em que Junot apresenta as suas melhores qualidades de contista. Momentos,afinal, sem referências à Ficção Científica.
Um breve mas assombroso livro, sem dúvida.